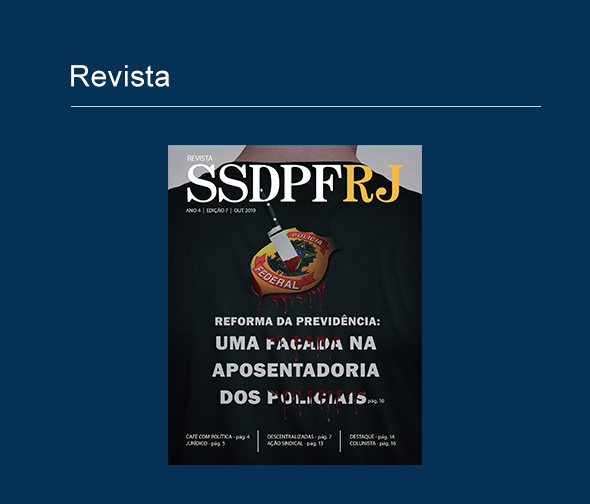“Viatura de luxo era Brasília. A gente andava de fusca”. Essa é uma das frases espirituosas do APF aposentado há 13 anos, Roberto Petronilio dos Santos, que, aos 68 anos, manuseia o celular, diga-se de passagem, um iPhone, e brinca: “Tenho o dedo nervoso”. O gracejo remete a um dos hobbies do entrevistado, a fotografia, que está longe da calma e habilidade demonstrada em sua última lotação, no stand de tiros da PF, onde foi instrutor. O destaque dessa matéria vai para os 28 anos de PF, passando pelo Núcleo de Segurança de Dignitários (NSD), Stand de Tiro e DRE, além da segurança do Papa João Paulo II.
“O policial tem que ter o curso para aperfeiçoar o instinto”, aborda Petronilio, que revela ser um sujeito disciplinado, minucioso e discreto. Foram 15 horas de gravação, três dias de entrevista, relatando grande parte de sua vida e carreira policial na DRE. “Era um tempo em que não havia satélites para localizar plantações de maconha ou se comunicar por celular. O policial tinha que contar com informante ou ir a campo para investigar. Cocaína ainda era uma droga restrita a centros urbanos, como Rio e São Paulo, ou chegava por aeroportos de outros países, como a Colômbia e a Venezuela. A arma mais pesada era calibre 12”, diz, o entrevistado explicando o contexto e as dificuldades da carreira policial que impactaram em seus três casamentos. Para o APF Petronilio, seus filhos são suas verdadeiras riquezas: a psicóloga e professora, Daniele, 46, que lhe deu a neta Isabela, 11; a estudante de moda, Maria Luisa, 25; e Vitor, 20. Saiba mais na íntegra, no texto abaixo:
SSDPFRJ: Como foi a sua criação e sua infância?
RP: Minha criação foi de rigidez e disciplina. Uma das razões foi atribuída ao fato de meu pai ter sido funcionário civil do Ministério do Exército. Tinha toda aquela característica de doutrina militar. Ele não tinha nem o 1º grau completo, mas era autodidata e me corrigia quando eu errava no Português. Mas o princípio de tudo foi o escotismo. Na época, era um movimento muito enfático. Entrei, aos 10 anos, junto com meu irmão mais velho. Abriram uma exceção para mim, porque só era permitido entrar aos 11 anos. Ser escoteiro é servir à sociedade. Queríamos ser úteis. Ajudávamos no trânsito, no patrulhamento escolar, fazíamos passeios. Aprendi ali os Primeiros Socorros e a sobrevivência na selva nos acampamentos a que íamos. Levei muita gente do Morro de São Carlos, no Estácio, onde cresci para o escotismo. Foi muito bom. A gente descia o morro fardado de escoteiro. Éramos vistos como especiais.
SSDPFRJ: Você trabalha desde a adolescência. O que já fez antes de ser policial federal?
RP: Com 15 anos, fui office-boy em um escritório de advocacia. Só que um dos advogados era guitarrista e tinha uma banda, Bingo 7. Daí, também fui trabalhar como holding do grupo. Nas épocas com mais apresentações, como Carnaval e Réveillon, eu tocava percussão e até cantava. Depois de algumas cervejas, todo mundo canta (risos). Cantava marchinha, samba-enredo. Fazíamos shows para os quadros sociais dos principais clubes do Município e Estado do Rio, como Sírio- Libanês, AABB, Bola Preta, Monte Líbano, Caiçaras, Municipal e Piraquê e em outros estados, como Minas, São Paulo e Pará. Foi uma época, na década de 1970, em que conheci vários artistas, como Emílio Santiago, Toni Tornado, Carlos da Fé, Eliana Pittman. Teve até um episódio em que o nosso crooner, Antônio Carlos Mascarenhas, disputou o posto de melhor cantor com Emílio Santiago no Programa do Flávio Cavalcanti. Mas o Emílio ganhou. Eu gostava muito de soul music brasileira e americana, como Tim Maia e Stevie Wonder. Mesmo quando era policial na Bahia, eu ainda era músico eventual nas festas. Vinha, ganhava meu dinheirinho, que dava para pagar as passagens aéreas na Cruzeiro do Sul e na Varig. Trabalhei também como escriturário no extinto Banerj por um ano e meio. Era um bom emprego. Tinha até 15º salário e participação nos lucros. Mas pedi demissão quando fui chamado para a PF.
SSDPFRJ: Como a Polícia Federal entrou na sua vida? Quais experiências foram mais marcantes?
RP: Meu irmão mais velho, Alberto, é policial civil, já falecido. Éramos muito próximos e ele foi meu maior exemplo. Ele morreu em 1991, em combate. Tomou um tiro. Foi sepultado como herói. Era muito querido na corporação. Eu já era policial nessa época. Tomei posse em 1980, aos 27 anos, na Bahia. Escolhi ir para lá, porque tenho raízes familiares por parte de pai. Fiquei até 1983, quando voltei, transferido para o Rio. Depois, quando já estava no órgão, formei-me em Direito, que foi um curso que gostei de ter feito. Requer disciplina e atenção. Mas se não tivesse cursado Direito, teria feito Jornalismo. Escrevo bem. Sempre gostei da Língua Portuguesa. Quando jovem, fui freela de fotografia na “Gazeta de Notícias”. Era bom ter a carteira da imprensa, facilitava a entrada franca nos eventos. Aqui na PF, cheguei a trabalhar na Comunicação Social atendendo jornalistas, fazendo pautas e assessoria do gabinete da SR/RJ. Mas também fui lotado no Setor de Intimações, Núcleo de Segurança de Dignitários (NSD), Stand de Tiro e DRE. Participei de muitas operações como Serra Pelada, Selva Livre (nação ianomâmi/ base Surucucu, Roraima), Mosaico e Roosevelt (reprimindo o garimpo ilegal em área indígena, na nação Cinta Larga/Espigão do Oeste, Rondônia). Cheguei a trabalhar na segurança do Papa João Paulo II, por duas vezes: em 1980, em visita à Bahia, e em 1997. Sempre fui operacional. Mas a maior parte da minha carreira foi no Setor de Repressão a Entorpecentes. Eu adorava. Atuei em uma época que não havia satélite nem helicóptero para mapear plantações de maconha. A gente obtinha as informações pelo mateiro quando chegava à capital. Só nos grandes centros, como Rio e São Paulo, havia cocaína. Aqui no Rio, participei da prisão de grandes traficantes como o Escadinha. Fiz curso de perfilagem e abordagem de passageiro junto com o pessoal da Aduana do Aeroporto de Heathrow, em Londres. Experiência e tirocínio policial são importantes, mas fundamentado pelo curso. O policial tem que ter o curso para aperfeiçoar o instinto. De armas, eu só fui gostar quando fiz o curso para instrutor de armamento e tiros na ANP, em 2003. Depois disso, fiquei no stand dando aulas e só parei quando me aposentei, em 2008. Em todas as divisões, tive alegrias e tristezas, percalços e momentos felizes. Foram 28 anos de PF.
SSDPFRJ: Você viveu a polícia de outros tempos. O que você percebe na atividade policial de hoje e da época que estava em atividade?
RP: A tecnologia facilitou muito a operação policial. Mas ajudou também os criminosos. O crime sempre andou na frente da polícia. Depois, a polícia começa a se cercar de condições para poder combater o crime. Os meios de informação são muito rápidos. Tem que se tomar cuidado, senão a polícia já chega com a operação “vendida”, com os bandidos já sabendo de tudo. Nas favelas, estão colocando câmeras. Na minha época, trabalhávamos com informantes. Era polícia de proximidade. A gente se disfarçava. Chama-se “agente encoberto”. Saíamos para investigar, para buscar a informação. Trabalhávamos mais com a cabeça. Hoje em dia, as informações chegam por meio de denúncias anônimas, ou da própria vivência. Faz-se uma pesquisa do tipo de crime que está sendo praticado e colocam-se escutas, gravações, filmagens, drones. A maioria dos policiais não vai a campo, porque não se faz necessário. A tecnologia permite só sair para a operação final. Há outra postura dos policiais mais novos. Acho que, na minha época, era mais emocionante, porque estávamos no front. Hoje, uma equipe vai a qualquer lugar, em qualquer favela, apartamento, condomínio, desde que esteja preparada para a atividade. Antigamente, nós ficávamos mais vulneráveis, porque chegávamos ao local e não sabíamos o que iríamos encontrar. Sorte a nossa que não havia o tanto de armamento e com a qualidade e potência bélica dos que existem hoje. Antes a arma mais pesada era a de calibre 12. Hoje, são até mísseis. Cansei de entrar desarmado em favela. Algumas vezes, tendo que entrar disfarçado de carteiro ou motorista de táxi, outro colega armado e o informante para mostrar o lugar. A equipe ficava afastada com mais duas ou três viaturas. Naquela época, também não havia celular, ficávamos dependentes da qualidade da transmissão via rádio (HT/rádio da viatura). Viatura de luxo era Brasília. A gente andava de fusca. Os salários eram mais baixos. Mas achava a PF mais respeitada. Tinha menos efetivo, então se trabalhava mais, a ponto de sacrificar a família. Eu me casei e divorciei três vezes. Para a família, é difícil entender a vida de policial. São muitas viagens. Tenho muitos colegas separados, alguns que estão no terceiro, quinto casamento. E tem até casos de suicídio.
SSDPFRJ: Você é conhecido por suas motos e também pelas armas, já que sua última lotação na PF foi o stand de tiro. Tem outros hobbies?
RP: Gosto de moto desde 16 anos. Só que, nessa época, eu andava com moto emprestada, dos amigos. Só quando entrei na PF, comprei a primeira, uma Honda. Estava lotado na Bahia. E meu único acidente mais sério foi lá. Tinha chovido muito e abriu um buraco na pista. Não vi. Foram escoriações leves. Depois, só em 2016, sofri uma tentativa de assalto em São Cristóvão. Nessa ocasião, eu sobrevivi, porque não saquei a arma. Se tivesse sacado, eu poderia estar morto. Eu estava em cima da moto, vulnerável. Tombei com ela para me abrigar e sair da linha de tiro. Se eu tivesse feito qualquer gesto, sem ter me abrigado, o criminoso poderia ter me atingido. Mesmo que fosse de raspão, já seria prejuízo. Um dos fundamentos ensinados em um curso de armamento de tiro é se entrincheirar. Como esse assalto aconteceu no dia 22 de abril, véspera do dia de São Jorge, no dia 23, desde então, sou devoto do santo. Hoje, tenho uma Scooter. Já tive minha Harley-Davidson, mas vendi. Gosto de pegar a estrada com a moto. Conheci muitas partes do Brasil pela PF, mas também com a banda e a minha moto. Já participei de grupos de motociclistas como o Street Rangers e os Independentes (criado na SR/RJ nos anos 1990). Saíamos para beber, conversar, trocar informações sobre motos, mas há também a parte de filantropia. Gosto de praia. Sempre que posso, vou à Praia do Forno e da Ferradura, em Búzios. Voltei a gostar da Praia do Flamengo, que frequentei durante a infância e a adolescência. Tem todo o aparato para a prática de diversas modalidades esportivas e lazer. Vou sempre na lua cheia para fotografar. Tenho dedo nervoso (risos). Mas, para atirar, segundo a doutrina que nos é passada em um curso de armamento e tiros, aconselha-se justamente não ter o dedo nervoso. Tem que ter o dedo calmo (risos). Quando você adquire destreza, expertise com a arma, você passa a dominá-la com mais tranquilidade, até para evitar o uso.
SSDPFRJ: Você foi passar uma temporada na Flórida, onde mora sua filha mais velha. Como foi essa experiência?
RP: Fui em 2019, antes da pandemia, onde fui encontrar meu filho caçula, Vítor, 20, que estava lá estudando. Ele foi morar com a irmã, minha filha mais velha, Daniele, 46, para fazer o ensino médio, que lá chama-se High School, e também para aprender inglês. Eu ia voltar para morar com ela, mas veio a pandemia e mudei meus planos. Voltei com meu filho. Gosto dos Estados Unidos. Eles valorizam a cultura. São educados. Há disciplina e conhecem a cidadania. Eu sou muito briguento quando é para fazer valer os meus direitos. Digo que, no Brasil, não há racismo. Há discriminação racial, ignorância, falta de informação, de cultura e de educação. Racismo há nos Estados Unidos, onde houve uma espécie de apartheid, com lugares onde os negros não podiam entrar.